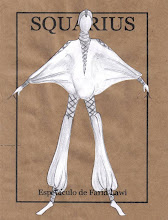Paulo Vinícius Alves
Este texto foi escrito durante a pesquisa de Mestrado em Filosofia da PUCPR
que teve como objeto de estudo a expansão do conceito de espaço cênico.
Este texto tem como objetivo principal
traçar um panorama do uso do espaço cênico teatral sobre o decorrer do século
XX, principalmente valorizando o desenvolvimento histórico e do espaço físico
como lugar de relação entre cena e espectador. Tem como mola propulsora o
desejo de se tornar uma fonte de pesquisa sobre a cenografia,
oferecendo um mapeamento do espaço cênico, do naturalismo cênico (final do
século XIX) até o momento atual, ano de 2018. Contudo, não pretendo esgotar,
absolutamente, toda a produção artística desenvolvida no período citado, mas
trazer importantes representantes do uso do espaço teatral na história mundial.
O objetivo deste texto
é também criar pontes com o que foi produzido no Brasil, numa tentativa de
direcionar o olhar para a nossa maneira brasileira de produzir teatro e, nesse
sentido, mapear os desdobramentos artísticos, herdados no decorrer dos anos,
nos transformando no teatro que produzimos neste inicio do século XXI. Pretendo
valorizar a aproximação com a nossa produção atual, colocando lupa nos moldes
de criação nacional contemporânea.
Revisitar
a história do teatro mundial e brasileiro, valorizando as citações e descrições
cenográficas, a encenação
conforme o uso do espaço, tornou-se o desejo de organizar o pensamento sobre a
evolução do espaço cênico a partir de citações de espetáculos ou poéticas,
dispostas em forma cronológica.
Ao analisar o uso e o
desenvolvimento do espaço cênico no século XX, não podemos nos esquecer de que,
para criar as diferentes possibilidades de relações espaciais, nós herdamos
todo o desenvolvimento tecnológico da história do teatro mundial, tanto do ponto
de vista do edifício teatral, como dos recursos de cenotecnia,
maquinarias desenvolvidas ao longo do processo histórico. Dessa maneira,
identifico que várias das práticas e escolhas adotadas no século XX foram
também uma forma de revisitar escolhas adotadas em diferentes momentos
históricos do teatro. O recorte é o século XX, mas, apesar de não irmos até o
espaço cênico grego, berço do teatro ocidental, nós sabemos que vem de lá
alguns dos recursos mecânicos e por que não dizer tecnológicos da cenografia
teatral. Da mesma maneira, outros recursos técnicos foram criados no espaço
teatral romano, no medieval, no elisabetano, ao ar livre e depois nos edifícios
inteiramente fechados, com topologia a italiana. Mesmo que não consideradas, é
sobre essas heranças que o espaço cênico do século XX operou.
Surgido no Renascimento, o teatro à italiana, caracterizado
principalmente por ser um edifício fechado de topografia frontal do palco para
a plateia, veio se desenvolvendo desde lá, avançando em recursos cenográficos
no período Barroco e se tornando ideal para as recriações naturalistas no final
do XIX e início do XX, por exemplo, quando o teatro se empenhava em reproduzir
no palco, com profundo detalhamento, a realidade que vivíamos no cotidiano.
A caixa cênica propriamente dita,
com movimentação de cenários verticais e horizontais, urdimento,
bastidores
e porão com elevadores, foi integrada ao teatro a italiana somente no século
XVIII, em 1778, no teatro Alla Scala
em Milão, projetado por Giuseppe Piermarini (1734 – 1808). Foram emprestados
termos da tecnologia naval para batizar muitos dos equipamentos instalados na
caixa cênica, como as manobras,
as roldanas, os contrapesos,
etc.
Outros espaços não convencionais
foram utilizados como o lugar de representação ao longo da história, como
praças públicas, galpões, igrejas, instituições públicas desativadas, como
hospitais e presídios, entre outros. Essas abordagens espaciais também não são
exclusivas do século XX, pelo contrário, desde a Grécia antiga elas veem se
transformando e se tornando nossa herança cultural.
O
entendimento do espaço cênico no século XX
O espaço cênico pode ser compreendido como o
lugar onde a cena acontece e, dessa maneira, pode variar sua compreensão
mediante ao tipo de poética
teatral desenvolvida no espetáculo teatral, bem como a relação que se
estabelece com a plateia. Ou seja, num teatro convencional, de topografia italiana,
por exemplo, com a divisão clássica e frontal entre palco e plateia, o espaço
cênico pode ser compreendido, por um lado, como o interior da caixa
cênica, se o espetáculo acontecer inteiramente nessa fronteira. Por outro lado,
podemos considerar o auditório todo como o espaço cênico, se o espetáculo
ocupar também a área destinada inicialmente para a plateia, como poltronas,
escadas, corredores, balcões, etc. Nesse caso a relação do espetáculo com a
audiência extrapola os limites do proscênio e
passa a acontecer também aos redores do público presente. Contudo, o fio condutor para a
realização de tal recorte na história mundial do teatro, justifica-se nos
exemplos que interagem com a noção de relação com o espectador, valorizando
espetáculos que tenham considerado a relação espacial com o público como
pensamento do espaço cênico da peça.
Num
teatro alternativo, ou seja, um espaço experimental para espetáculos, como um
galpão, uma sala preta ou qualquer outro edifício teatral que fuja dos moldes convencionais
e da divisão frontal entre palco e plateia, o espaço cênico corresponde, quase
sempre, ao todo espacial, ou seja, o lugar da cena e o lugar do público,
misturados muitas vezes, onde a plateia pode ter seu lugar definido, disposta
em corredores por arquibancadas móveis, por exemplo, ou contornando a cena
pelos quatro lados. Propor o espaço cênico de forma alternativa pode ser,
inclusive, não preparar um lugar específico para cada integrante do público,
misturando atores e espectadores. Tais espaços tendem a propor uma relação mais
dinâmica e intensa entre o espetáculo e o público, mas, ressaltamos novamente
que a disposição espacial não é a única responsável pela eficácia do encontro
entre espetáculo e público. Até mesmo nos espaços experimentais a poética da
encenação é a que valorizará esse espaço relacional do encontro, ou não.
A
ideia de espaço cênico engloba a ideia de cenografia que, por sua vez, “é o
espaço eleito para que nele aconteça o drama ao qual queremos assistir.
Portanto, falando de cenografia, podemos entender tanto o que está contido num
espaço quanto o próprio espaço” (RATTO, 1999, p. 22).
Sob
um aspecto, o espaço cênico pode ser abordado como um espaço físico,
arquitetural, composto de estruturas que se relacionam com as formas
cenográficas, ou com as distâncias percorridas, com planos e profundidades.
O uso do palco no
interior de uma caixa cênica de um teatro à italiana, por exemplo. Este formato
prevê a possibilidade do desenvolvimento de uma série de acontecimentos
ficcionais, através das possibilidades maquinarias, como o uso do urdimento e
de todas as estruturas que nele são instaladas, bem como os recursos instalados
na parte inferior do piso do palco, como o fossoda
orquestra, quarteladas, elevadores,
etc.
Sob outro aspecto, o
espaço cênico também pode ser abordado como um lugar temporal, criado segundo
as circunstâncias dadas pela peça e, nesse sentido, não estamos falando das
características físicas do espaço, mas daquelas que a dramaturgia instaura.
Dentro dessa perspectiva posso ressaltar, por exemplo, as imagens criadas pelo
público presente a partir dos estímulos trazidos pelos atores ou pelos demais
elementos do espetáculo. O espaço cênico, nesta abordagem, torna-se um lugar de
compartilhamento entre as proposições do espetáculo e a recepção do público,
sendo assim, um lugar subjetivo agregado à construção espacial, portanto, nesse
sentido, falamos mais de sensações do que decorações espaciais.
Continuo defendendo o conceito do espaço cênico
considerado como uma atmosfera que atua no espetáculo de forma sensorialmente
dramática. Ataco violentamente o decorativismo gratuito, tudo o que procura
agradar, o pleonasmo, o adjetivado, o pomposo, enfim tudo o que se sobrepõe pretensiosamente
à correta interpretação do texto e do espetáculo que o intermedia (RATTO, 1999,
p. 19).
Diante disso, o espaço cênico
torna-se mais do que um espaço passível de ser medido em metros quadrados, ele
pode ganhar outras proporções e geometrias que não necessariamente tem a ver
com as dimensões físicas, mas subjetivas, internas, onde possa ser ampliado ou
reduzido segundo a relação com o espectador, “pois, o espectador tem uma
capacidade de intuição que lhe permite ir além da visualidade proposta pelo
espetáculo que está sendo apresentado” (RATTO, 1999, p. 24).
É sobre essa perspectiva que lançarei olhares para o século XX e identificarei
algumas das principais proposições do uso do espaço cênico, tal como defino
aqui, uma disposição espaço-temporal. A disposição da plateia e a maneira como
os trabalhos desenvolvidos consideraram essa relação, também serão vieses que
definirão as escolhas apresentadas. Tal estudo me guiou no desenvolvimento da
pesquisa realizada durante o desenvolvimento de minha dissertação de Mestrado, principalmente
quando falei do espaço relacional e de como o teatro avançou sobre esse tema.
Vele ainda lembrar que, sendo o século XX um tempo vivido pelas mais
diferentes vanguardas, como o Expressionismo, o Futurismo, e o Surrealismo, por
exemplo, o teatro nesse século também se permitiu experimentar formatos que
fogem da espacialidade tradicional.
Olhando para o século XX
O naturalismo cênico marca na
história do teatro mundial grandes contribuições para o fazer teatral. Vem
desse período a convenção do que chamamos do primeiro encenador da história,
André Antoine (1858 – 1943). Como encenador, nesse momento histórico, ou seja,
na passagem do século XIX para o XX, entendemos o diretor que apresenta mais do
que marcações cênicas e resoluções técnicas para seus espetáculos. Digamos que
um encenador assina seus trabalhos e, dessa maneira, imprime sua autoria nas
escolhas apresentadas.
Convencionou-se considerar Antonie como o primeiro
encenador, no sentido moderno atribuído a palavra. Tal afirmação justifica-se
pelo fato de que o nome de Antonie constitui a primeira assinatura que a
história do espetáculo teatral registrou (da mesma forma como se diz que Manet
ou Cezánne assinam os seus quadros). Mas também porque Antonie foi o primeiro a
sistematizar suas concepções, a teorizar a arte da encenação (ROUBINE, 1998, p.
24).
O encenador dedica-se à visão global de um espetáculo, às questões dos
atores, da relação palco e plateia, das necessidades técnicas e artísticas que
envolvem todos os elementos visuais e sonoros de uma representação. Nesse
sentido, o surgimento da figura do encenador vai pontuar todas as proposições
espaciais da prática teatral no século XX, escolhas e práticas que me interessam
e que, de certa forma, justificam os recortes deste texto.
1888 – André Antoine em plenas atividades na sua primeira fase de
produção teatral, impregnada de realidade, fazia do palco a reprodução exata da
vida, cuidando dos pequenos detalhes na encenação.
Antonie apresentava uma caixa cênica mostrando aposentos
com portas praticáveis e janelas, tetos de madeira sustentados por pesadas
vigas, troncos de árvores naturais, gesso de verdade caindo das paredes. Seu
famigerado golpe de mestre foi pendurar, certa vez, postas de carne crua em
ganchos de açougueiro no palco, coisa que fez num acesso de raiva, quando um
cenógrafo o deixou na mão. Foi uma solução relâmpago, nascida do mau humor, não
um barbarismo inerente a sues princípios. (BERTHOLD, 2006, p.454)
Ele integrava objetos reais no espaço cênico, que continham a
materialidade real, as marcas do passado e de uma existência verdadeira. Com
isso, produzia o que podemos chamar de uma teatralidade do real. Antonie, num
sentido mais abrangente, interessava-se na exploração do espaço cênico,
sobretudo, como potencialidade para o trabalho expressivo do ator, justificando
sua prática como um encenador que realmente dedicava-se ao conjunto de
possibilidades expressivas do espetáculo. Digamos que seus conhecimentos e
interesses englobavam o que seria o trabalho de um diretor, de um cenógrafo, de
um iluminador e de um preparador de ator, entre outras funções da encenação.
O Naturalismo cênico, ainda no final do século XIX, reproduzia técnicas
de construção cenográfica onde a natureza era fielmente copiada e, muitas
vezes, os próprios materiais naturais eram levados para a cena, como árvores e
folhagens.
Entre outras estratégias
naturalistas, Antonie propunha o jogo com a quarta parede
imaginária, onde o público era completamente ignorado, ganhando muitas vezes as
costas dos atores durante as suas falas (BERTHOLD, 2006, p.454).
O teatro funciona como um espelho da
sociedade e, portanto, as mudanças e os avanços vividos por ela influenciaram e
continuam a influenciar a produção teatral. Um grande exemplo disso são os
avanços alcançados com a revolução industrial ou com o advento da luz elétrica
e, posteriormente, com a invenção do cinema.
1891 – A iluminação elétrica
torna-se o principal instrumento de estruturação e animação do espaço cênico
(ROUBINE, 1998, p. 21). É o inicio do seu uso nas montagens teatrais, a
inserção da iluminação ganhará força logo adiante, nos primeiros anos do
próximo século. Neste ano, a luz elétrica como possibilidade de iluminação
cênica é, sobretudo, utilizada no trabalho da bailarina Loïe Fuller (1862 –
1928), pois não se limita a uma definição atmosférica do espaço.
Não espalha mais sobre o palco um nevoeiro do crepúsculo
ou um luar sentimental. Colorida, fluida, ela se torna um autêntico parceiro da
dançarina, cujas evoluções metaforseia de modo ilimitado. E se a luz tende a
tornar-se protagonista do espetáculo, por sua vez a dançarina tende a
dissolver-se, a não ser mais do que uma soma de formas e volumes desprovidos de
materialidade (ROUBINE, 1998, p. 22).
Alguns artistas, em diversos
momentos da história, propuseram teorias e práticas muito avançadas para a sua
época e, portanto, tais práticas só foram reconhecidas, pela originalidade,
genialidade e ousadia, muito tempo depois. Na história da arte tivemos muitos
desses exemplos e no teatro, significativamente, também. Podemos dizer que Alfred Jarry (1873 – 1907)
foi um deles.
1896 – Jarry tumultua Paris ao montar sua peça Ubu Rei, dirigida por Lugné-Poe (1869-1940), uma peça de cunho
simbolista, considerada no futuro como a precursora do surrealismo no teatro. Por
vários fatores, dramatúrgicos e principalmente estéticos, Jarry contrapõe seus
valores aos ideais naturalistas e aos recém chegados valores simbolistas desse
final de século. Entre outras proposições, coloca um ator para representar uma
porta, fazendo de sua mão a maçaneta. “As
resoluções cênicas geram as personagens que por sua vez geram as resoluções.
Seria Jarry o primeiro encenador-autor do teatro? Pelo fato de criar texto e
cena de forma tão própria e inovadora, Jarry cria uma linguagem específica”
(SCHEFFLER, 2008, p.6).
O cenário de Ubu Rei representa o lugar algum, misturando elementos reais em
situações ficcionais, como, por exemplo, as árvores aos pés das camas e
elefantes trepados nas estantes (ROUBINE, 1998, p. 36). Dizemos que as proposições
cenográficas de Jarry abriram lugar para a ressignificação do público diante do
que é mostrado na encenação. O sentido é extrapolado para além da representação
real de um espaço existente.
Em outro contexto, mas ainda falando
de proposições avançadas no seu tempo, nesse mesmo ano de 1896, Karl Lautenschlager
(1868 – 1952) inventa o palco giratório,
em Berlin, criando assim novas possibilidades espaciais da cena e tornando-se o
principal interesse do alemão Max Reinhardt (1873 – 1943), um grande diretor de
teatro deste início de século (BERTHOLD, 2006, p. 483).
1903 – Max Reinhardt dirige Sonho de uma noite de verão, de
Shakespeare, faz uso do palco giratório, colocando sobre ele um cenário
composto por “árvores reais num verde tapete de grama, árvores atrás das quais
a lua nascia e sobre as quais as estrelas brilhavam nas abóbadas celestes”
(BERTHOLD, 2006, p. 487). Ele estava interessado na composição com o ciclorama,
na iluminação multicolorida, nos efeitos e possibilidades de construção da
plasticidade da cena. Enquanto diretor e cenógrafo, esta foi a mais expressiva
e reconhecida montagem de Reinhardt, apesar das inúmeras propostas que
desenvolveria nos próximos anos.
O naturalismo, com relação a
encenação e os seus recursos técnicos do edifício teatral, limita-se a
representar o real, com todos os recursos que lhe era possível. Porém, o real
limitava as possibilidades expressivas no teatro.
Nesse momento, o simbolismo ganha espaço nas produções cênicas,
sobretudo nas montagens dos balés russos, apresentados com orquestras, nesse final
do século XIX e início do século XX. Mais do que a representação fiel dos
elementos reais, o teatro, o balé e a música clássica estavam interessados em
representar estados da alma.
Para os simbolistas, o empenho fotográfico do drama
naturalista era uma tela que obstruía a penetração do olhar em vistas mais
profundas. O palco não deveria apresentar um milieu real, mas explorar zonas de estados d´alma. Sua tarefa não
era descrever, mas encantar. A luz adquiriu uma função importante e a palavra
encontrou auxílio na música e na dança. Em alguns casos felizes, os simbolistas
conseguiram transpor disposições íntimas enraizadas no lirismo para o domínio
público do palco. O mérito de o drama simbolista ter sobrevivido sem danos a
tais revelações do “état de l´âme”
(“estado de alma”), pode ser creditado unicamente à musica. (BERTHOLD, 2006,
p.469)
O Simbolismo vem para explorar todas
as potências tecnológicas que o palco naturalista não conseguia alcançar, pois,
limitava-se à realização de representações que imitavam a realidade, como
dissemos. Nesse sentido, o simbolismo, explorava o sonho, a materialização do
irreal e a representação da subjetividade (ROUBINE, 1998, p. 27). Como romper
com o ilusionismo figurativo no teatro? E, sob outro aspecto, como inventar um
espaço especificamente teatral? Como fazer para o espaço cênico não ser
reduzido a uma imagem pictórica? Essas foram questões levantadas pelos pintores
simbolistas que dedicaram se a prática da cenografia.
O teatro abre-se para outras
descobertas.
1906 - Vsevolod Meyerhold (1874 – 1940) monta em São Petersburgo o drama
Spectros, de Henrik Ibsen (1828 –
1906), apresentada pela primeira vez em 1889 na Freire Bühne em Paris. Na montagem de 1906, Ibsen insere
características antinaturalistas na encenação, a começar pelo palco italiano
sem cortinas na boca de cena
(BERTHOLD, 2006, p.453).
Todas as proposições instauradas no
espaço de representação eram assimiladas pelo público nesse início de século.
Algumas experimentações espaciais, pensando na relação espetáculo e espectador,
começaram a ser implantadas nos espaços de representação.
Também em 1906, Max Reinhardt cria um espaço intimista para
apresentações que ficou conhecido como Sala Kammerspiele,
estreitando as relações entre palco e plateia. Esse formato vai resultar, num
futuro próximo, no Teatro Íntimo de August Strindberg (1849 – 1912) em
Stocolmo, inspirado pelas proposições espaciais de Reinhardt na Kammerspiele.
Para Max Reinhardt, o Kammerspiele era simplesmente um
acorde da orquestra de seus planos – um acorde que sustentava com requintada
delicadeza, conveniente a esse auditório que, com seu revestimento escuro e
cadeiras confortáveis, parecia tão particular quanto uma sala de estar. Para a
inauguração, em 08 de novembro de 1906, ele levou os Espectros, de Ibsen, com cenários do pintor norueguês Edvard Munch
(BERTHOLD, 2006, p.487).
O investimento era em espaços intimistas, permitindo o teatro de câmara,
oferecendo alternativas para fugir de um tipo de teatro muito oneroso, em
escala menor, mas que também, por outro lado, favorecendo um teatro próximo do
espectador, realizado nesses espaços pequenos, configurados como caixas pretas,
espaços neutros para receber diferentes montagens, utilizando o espaço cênico
de formas variadas, conforme as características de cada trabalho.
Então, a ênfase se concentra no espaço dramático criado
entre os atores e o objeto, e no mobiliário ou cenário necessário para contar a
história. O piso do palco é em declive ou inclinado, para contrabalançar a
altura ascendente do auditório, o nível do olhar do ator encontra a plateia de
modo íntimo, direto e poderoso, e uma ligação intensa é alcançada
imediatamente, da mesma forma que alguém pode se sentir quando está sobre os
palcos vazios dos antigos teatros barrocos (HOWARD, 2015, p. 33).
A parir daí, em contrapartida, Reinhardt propõe experiências cênicas
para grandes plateias, massas de pessoas, recriando as atmosferas do teatro
grego ou medieval, por exemplo. Ele aluga o Zirkus
Schumann, uma grande tenda, para encenar o Édipo Rei, de Sófocles (406 a.C.). A cenografia criada foi uma
enorme e imponente escadaria, ocupada por uma multidão de figurantes, que
realizavam movimentos, integrando-se ao espetáculo. Em Londres, ele encena O Milagre, de Karl Vollmöller (1878 –
1948), dentro de uma cenografia cheia de vitrais, arcos ogivais e colunas,
reconstruindo a espacialidade de uma catedral gótica, onde o público era
conduzido na penumbra, revivendo uma atmosfera medieval mística, durante o
espetáculo.
Essa foi uma época bastante promissora para as renovações no espaço
cênico teatral no teatro europeu, sobretudo, pois, as novas perspectivas do uso
do espaço estavam no foco da produção teatral, certamente impulsionadas pelo
advento da luz elétrica.
Sobre desenvolver a iluminação
cênica, foi o que fez o suíço Adolphe Appia (1862 – 1928) ao projetar o espaço
de representação a partir do estímulo que as possibilidades de iluminação no
espetáculo lhe instigavam. Appia avançou consideravelmente na formulação de um
espaço tridimensional, favorecendo a cena, criando com a luz, atmosferas,
profundidades, sombras e ênfase nos espaços de representação.
Ele atribuiu à luz uma tarefa que até então o teatro não
fizera nenhum uso, ou seja, lançar sombras, criar espaço para produzir
profundidade e distância. Appia construiu formas arquiteturais de pesados
blocos, cubos e cunhas, transformando-as nas largas superfícies daquilo que
chamamos de “cena interior”, de acordo com seu princípio do palco estilizado em
três dimensões, com pontos de luz. (BERTHOLD, 2006, p. 470)
Ele foi o primeiro arquiteto cênico do século XX, introduzindo formas
arquitetônicas numa época em que o ilusionismo, através dos painéis pintados,
vigorava na cenografia teatral.
O inglês Edward Gordon Craig (1872 – 1966) compartilha das proposições
de Adolphe Appia, sobretudo no uso da iluminação, e, por ser filho de artistas
e ser ator, totalmente inserido nas produções artísticas de seu tempo, avança nas
questões que renovarão o pensamento do espaço cênico, no século XX, a partir do
uso e entendimento do palco à italiana e seus desdobramentos na produção
cênica.
A revolução potencial que a iluminação elétrica permite
ao menos imaginar enriquece a teoria do espetáculo com um novo pólo de reflexão
e de experimentação, com uma temática de fluidez que se torna dialética através
das oposições entre o material e o irreal, a estabilidade e a mobilidade, a
opacidade e a irisação, etc. Em suma, aparece pela primeira vez, sem dúvida, a
possibilidade técnica de realizar um tipo de encenação liberto de todas as
amarras dos materiais tradicionais (ROUBINE, 1998, p. 23).
Craig, chega a propor que a cenografia, enquanto formas arquitetônicas,
praticáveis de diferentes planos com rampas e escadas, possa ser instalada na
caixa cênica como continuação do espaço ocupado pela audiência, o auditório.
Porém, não questiona o uso da frontalidade tradicional, ao contrário, faz uso
da imobilidade do espectador como recurso de contemplação da grandiosidade de
suas formas arquiteturais. Craig vê a encenação como uma obra de arte, uma
liturgia da beleza, um jogo de formas e volumes, animados pelas sombras e
luzes, uma estética que pede a posição frontal dos espectadores.
As pesquisas de Craig visavam a uma animação cada vez
mais complexa e rica das possibilidades expressivas do espaço cênico. Daí um
trabalho, em matéria de luz, que tanto impressionou seus contemporâneos. E
também a famosa invenção dos screns, espécie de anteparos que devem poder ser
manejados à vontade e permitir uma fluidez das formas e volumes, fluidez que a
luz, cortando as linhas retas, suavizando os volumes, arredondando os ângulos
ou, ao contrário, pondo-os em evidência, tornaria absoluta. Essa inovação
técnica, que permitiria passar de um palco estático a um palco cinético, é
julgada por Craig tão fundamental que ele considera estar inaugurando, com ela,
um novo espaço de representação, o quinto palco (os quatro anteriores sendo o
anfiteatro grego, o espaço medieval, os tablados da Comédia Dell´arte e, finalmente, o palco
italiano) (ROUBINE, 1998, p. 89).
O teatro no Brasil, nesse início e praticamente em toda a primeira
metade do século XX, aconteceu em espaços tradicionais, seguindo o modelo do
teatro italiano, com plateia disposta frontalmente para o palco. Os cenários,
na maioria das vezes, eram telões pintados, concebidos prontos, quase sempre
por pessoas não especializadas na área.
Até o inicio do século XX, a cenografia brasileira se
configurava como um trabalho de pintura. A cenografia era feita na base dos
telões pintados em perspectiva, dando a ilusão de profundidade, e, quando havia
outros elementos (móveis, objetos, utensílios, etc.), eles eram extremamente
realistas e conjugavam-se perfeitamente com a pintura – que também o era. (...)
Era comum no início do século XX que telões e elementos cênicos fossem usados por
diferentes produções. Uma produção chegava de viagem muitas vezes ia ao
depósito do teatro ver o que havia de disponível para usar em sua montagem
(SERRONI, 2013, p. 45).
O início do século XX foi significativo com relação ao surgimento de
novos espaços para a produção teatral brasileira.
1909 – O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é inaugurado no dia 14 de
Julho (FARIA, 2012, p. 374). Várias produções estrangeiras, sobretudo
italianas, foram trazidas para se apresentarem no grande palco do teatro municipal.
Por outro lado, um pouco mais tarde, a produção nacional também é valorizada
com a inauguração desse teatro, assim como o surgimento de outros espaços,
tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.
O desenvolvimento da produção nacional, porém, não acompanha as
proposições estrangeiras, principalmente, pelo nosso movimento modernista ter
acontecido tardialmente no Brasil, em comparação com a Europa, sobretudo.
1911 – Stanislawiski monta Hamlet no
Teatro de arte de Moscou
com cenografia de Gordon Craig. Para este trabalho ele utiliza seus famosos Screens (biombos), estruturas móveis que
reconfiguravam o espaço arquitetônico pela ação dos atores. Com este recurso,
Craig propunha o espetáculo numa estrutura espacial sem intervalos ou cortinas.
Seus biombos integravam o auditório ao palco, mascarando com outras formas
arquitetônicas a caixa cênica do palco italiano, um espaço já conhecido pelo
público. “Craig concebia seu palco não apenas na qualidade de simbolista da
luz, isto é, como iluminador, mas também, na mesma medida, como arquiteto
(BERTHOLD, 2006, p. 471).
O expressionismo, também nesse inicio do século XX, propunha, entre
outros recursos cênicos, a luz colorida como estratégia para a reconstrução de
atmosferas significantes. No mesmo ano de 1911, em Berlin, Ernest Stern (1876 –
1954) montou Die Wupper, de Else
Lasker-Shüler (1869 – 1945), onde “chaminés de fábrica se inclinavam sobre
casas vermelho-ferrugem de operários, e violentos contrastes de cor enfatizavam
a atmosfera realisticamente expressiva da peça” (BERTHOLD, 2006, p. 476).
Os espaços rítmicos de Adolphe Appia também foram criados na Alemanha
nesse mesmo ano de 1911. Foram assim chamados por ele, sobretudo, porque
permitiam que o ator desenvolvesse uma trajetória, um deslocamento físico, em
diferentes planos, rampas ou em degraus de escadas.
Um arranjo de escadas e plataformas que fornecia módulos
mutáveis, verticais e horizontais. A atuação nesses níveis distintos permitia
que os atores ficassem isolados em feixes de luz especialmente focalizados,
realçando sua presença no palco em espaços sem cenários adicionais. Isso deu
início a uma busca por soluções cênicas mais esculturais (HOWARD, 2015, p. 28).
O uso do teatro italiano, sua estrutura estática, com plateia fixa, faz
os encenadores proporem, nesse momento do teatro, algumas tentativas espaciais
de aproximação da cena com o público. Para a realização dessas tentativas, a
cenografia, como elemento estrutural e arquitetônico, foi fundamental para tais
experiências.
1913 – Jacques Copeau (1879 – 1949), sem questionar a posição frontal
tradicional, estabelece algumas estratégias na tentativa de aproximar palco e
plateia no teatro italiano, criando uma escada que liga os dois pontos, inspirado
por Craig, modulando a luz para trás da plateia, na tentativa de interligar o
auditório e o palco, comumente separados pelas luzes da ribalta
(ROUBINE, 1998, p.86).
O Surrealismo desperta o interesse pelo teatro em importantes pintores
da época, entre eles estavam Pablo Picasso (1891 – 1973), Henri Matisse (1869 –
1954), Max Ernst (1891 – 1976) e Joan Miró (1893 – 1983). O palco torna-se
lugar de composições pictóricas, integrando o discurso do figurino ao da
cenografia. As cores também estabeleciam, sobretudo, a temática das encenações
dos balés europeus desse período.
O uso da espacialidade continua o mesmo com as criações surrealistas no
teatro, ou seja, o palco italiano. Porém, a maneira de se expressar e a maneira
de se relacionar com o público, abre espaço para outras camadas de
interpretação, mais relacionadas com o subjetivismo, por exemplo.
Além dessas experiências, o teatro também, como na idade média, sai às
ruas, ou ocupa espaços ao ar livre, como na Grécia antiga. Vemos que, no
decorrer do século XX, várias experiências ocorreram fora do palco italiano.
1916 – Inaugurado no Rio de Janeiro o Teatro da Natureza, no dia 24 de
Janeiro, um grande teatro nos moldes europeus, ao ar livre, “montado no Campo
do Santana, com 70 camarotes, 1.000 lugares distintos, mil cadeiras, mil
galerias, havendo espaço para lugares em pé para 10 mil espectadores” (FARIA,
2012, p. 380). Construído para encenar releituras brasileiras, principalmente,
das tragédias gregas, lembrando os teatros de arena da Grécia. Este teatro
mantém se em atividades por pouco tempo, sendo desativado em Abril do mesmo
ano, alvo do desinteresse dos espectadores que deixaram de frequentar o teatro.
Às vezes, como já disse, alguma proposição artística acontece num
momento aquém do seu tempo, de certa forma, sendo inapropriada para a
assimilação da sociedade existente. Voltamos agora para um outro exemplo dessa
relação.
1917 – Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) escreve As Tetas de Tirésias, onde lemos no prólogo que “a peça foi feita
para um palco antigo, pois, ninguém construiria para nós um teatro novo, um
teatro circular com dois palcos, um no centro e outro formando um anel em volta
dos espectadores e que permitirá um grande desenvolvimento da nossa arte
moderna” (ROUBINE, 1998, p. 84). O que se observa com as proposições de
Apollinaire é que suas ideias com relação ao espaço são inovadoras para a sua
época, onde, principalmente, a soberania do palco italiano prevalecia nas
montagens teatrais. Tais proposições preveem relações mais intensas com o
espectador e serão retomadas mais adiante, sobretudo com as investidas de
Antonin Artaud (1896 – 1948) na década de 30, no Teatro da Crueldade.
Retomamos o desenvolvimento das proposições com relação à espacialidade.
1920 - Ainda investindo na relação com a plateia, Max Reinhardt,
posiciona atores sentados entre a plateia, gritando e interferindo numa cena de
Danton, onde uma assembléia
revolucionária era interpretada no cenário criado para ser um tribunal, de
longa rampa que avançava até as
primeiras fileiras da plateia (BERTHOLD, 2006, p.488). Nessa experiência a plateia sai do seu lugar de
espectador observador para um espectador mais ativo, estimulado a sentir outras
reações, uma vez que estava tão próxima dos atores, ocupando o mesmo lugar da
representação.
No Brasil, que antes se
dedicava, principalmente, a construção de cenários de gabinetes,
na década de 20, traz inovações cenográficas com o Teatro de Revista,
inspirado no que vinha fazendo a França e Portugal, sobretudo, porém, adaptando
aos temas nacionais. Este tipo de encenação contava com auxílio de cenários
móveis, auxiliados pelo uso da iluminação.
Em 1929, mais uma novidade foi acrescentada à encenação
das revistas: a passarela baixa, utilizada pela primeira vez na Guerra do mosquito, de marques Porto e
Luiz Peixoto, um dos maiores acontecimentos da década. O novo recurso
cenográfico servia à estrela Margarida Max, oferecendo-lhe a possibilidade de
contato mais íntimo com seu público (FARIA, 2012, p. 444).
O Teatro de Revista,
pela própria linguagem, instaura uma forma muito mais direta de comunicação com
a plateia, através de musicais, cenas curtas e com bastante humor, o espetáculo
extrapola os limites do palco e se relaciona diretamente com os espectadores.
A relação com o espectador, como vemos, foi uma das principais
preocupações do teatro produzido no século XX, cada poética da sua maneira.
Alguns artistas que pensaram categoricamente essa relação, propuseram maneiras
bem mais efetivas de comunicação com o espectador, como foi o caso de Artaud.
1924 – Antonin Artaud aspirava escapar das limitações da estrutura
espacial italiana do teatro e sonhava em abolir o caráter fixo da relação entre
espectador e espetáculo (ROUBINE, 1998, p. 85).
O que Artaud começa a desenvolver é sua nova proposta de encenação,
estimulado entre outras coisas, pelo Teatro de Balí e suas proposições buscavam
uma forma de encenação mais visceral, que dialogava com a ideia de ritual e
que, diretamente, propunha uma reflexão sobre o espaço ideal para abrigar um
espetáculo teatral. Um pouco mais adiante, veremos como é sua proposição a
cerca do espaço cênico.
O teatro busca suas próprias estratégias, técnicas e espacialidades que
realmente explorassem a teatralidade, ou seja, tudo aquilo que distinguisse o
teatro das demais linguagens artísticas, como o cinema, por exemplo. Nesse
sentido, o uso do espaço no século XX, permeia as propostas de encenação,
principalmente aquelas que ousaram extrapolar a tradição e o conforto do teatro
italiano.
1930 – Um projeto arquitetônico audacioso para a construção de um teatro
muito moderno foi desenhado por Walter Gropius (1883 – 1969), o diretor da Bauhaus
em Dessau, atendendo aos ideais de Erwin Piscator (1893 – 1966). Um edifício
multiuso, que poderia ser utilizado como teatro de arena, com palco central, ou
anfiteatro e também poderia ter seus espaços periféricos como áreas de
representação, tudo equipado com muita tecnologia, plateia giratória, projeções
por todas as paredes, etc. O projeto do Teatro Total, elaborado por Gropius,
foi exposto em Paris, mas, nunca foi realizado devido à grandiosidade de suas
propostas.
A inovação era uma pratica constante no teatro de Piscator, por exemplo,
entre outras proposições cênicas, para reforçar a teatralidade de suas
encenações, ele traz para a cena esteiras rolantes que cruzavam o palco de uma
coxia à outra, deslocando atores e elementos cenográficos.
1932 – Jardel Jércolis (1894 – 1944) monta o espetáculo Traz a nota, pela Companhia To-lo-ló, no
Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Entre outros espetáculos, essa
companhia marca um período de mudanças no percurso do teatro musicado no
Brasil, principalmente pela linguagem elaborada dos recursos cênicos, onde a
iluminação ganha papel importante nas encenações.
A iluminação passou a ser elemento integrante da
linguagem teatral, pois Jércolis a conduzia com técnica e sensibilidade,
transfigurando cenários, fazendo magia com diferentes intensidades, cores e
sombras. E essa foi uma de suas grandes contribuições à história do espetáculo
no Brasil, até então sem técnicos ou encenadores que levassem a iluminação a
sério (FARIA, 2012, p. 447).
1933 – Encenada a peça Amor...,
com Dulcina de Moraes (1908 – 1996), uma montagem ousada para a época no
Brasil, sobretudo, com relação ao uso do espaço cênico e da cenografia. Cinco
áreas de representação foram criadas no cenário que se dividia horizontalmente
e verticalmente, permitindo que o espectador pudesse acompanhar cenas
sucessivas nos cinco espaços diferentes, acompanhando o desenvolvendo de uma
ação específica, que vai evoluindo em cada cenário. Tal montagem propõe uma
forma experimental de criação teatral, porém, não emplaca naquele momento,
sendo retomada somente na próxima década no Brasil. “Além da inovação do espaço
cênico, inspirado no cinema, também na iluminação Oduvaldo experimenta,
inserindo cortes de luz, até então nunca utilizados em nossos palcos, para
marcar transições de cenas” (FARIA, 2012, p. 416).
1935 – Artaud monta Os Cenci,
em um teatro de topografia italiana, porém, inconformado com as limitações das
relações espaciais no desenvolvimento das potencialidades teatrais, seu teatro vai
apontar para o Teatro da Crueldade, como ele vai teorizar (ROUBINE, 1998, p.
85). A encenação, idealizada por Artaud, prevê a criação de um espaço circular,
como ele mesmo chamou, que inserisse os espectadores no centro da ação,
dispostos em cadeiras giratórias. Come essa nova topografia da cena, o
espectador se envolveria integralmente com o espetáculo, pois, sua aproximação
com os acontecimentos cênicos garantiria que o espetáculo fosse um
acontecimento realmente sensorial, visceral e intenso.
Também em 1935, Bertold Brecht (1898 – 1956) formula suas reflexões
sobre a arquitetura cênica, onde expõe principalmente sua maneira de ver a
relação espacial e as potências tecnológicas da caixa cênica. Ele condena o
ilusionismo e a relação alucinatória que o espetáculo tradicional instaura
através das possibilidades técnicas do palco fechado. Procura esvaziar o palco
de tudo o que não for necessário, transformando-o numa área de jogo, um espaço
para fortalecer as necessidades dos atores. Ele assume descaradamente a
teatralidade, utiliza cartazes no lugar de objetos, por exemplo. (ROUBINE,
1998, p. 90).
O que Brecht estava interessado era no envolvimento crítico com a
encenação, seu teatro era basicamente político, revolucionário, pois, trazia
como tema os próprios movimentos sociais. Diante disso, para ele, era
necessário que o público não se distanciasse da realidade e do momento
presente, a encenação não poderia envolver o espectador na ficção, tornando-se
fábula. Brecht queria que o espectador se posicionasse criticamente sobre as
ideias do espetáculo.
Um consenso estabelecido na primeira metade do século XX com relação ao
público é que este, na maioria das poéticas propostas, mantivesse o seu lugar
de passividade intelectual, pois recebia todas as informações já mastigadas no
espetáculo. Nesse sentido, a posição frontal e o conforto do teatro italiano
favorecia esse pensamento. Como vimos, houveram algumas exceções importantes no
desenvolvimento histórico, realçadas neste texto, como as proposições
de Jarry na passagem do XIX para
o XX, por exemplo, que estimulavam a ressignificação dos elementos visuais, ou
a intimidade da relação cena/espectador proposta por Reinardt na primeira
década do XX. Porém, as investidas da primeira metade do XX, na sua maioria das
encenações, mantinham o espectador num lugar de observador apenas.
A característica passiva do espectador, na primeira metade do XX, se
deva, principalmente, pelo uso soberano do palco italiano, como já disse, com
algumas exceções de montagens. A relação frontal e fixa na qual o público é
posicionado, diante da caixa cênica, é responsável pela atitude passiva de quem
apenas observa uma situação, como quem contempla uma pintura, por exemplo. Tal soberania do uso do palco italiano se
deve, sobretudo, porque
Ele é a solução que oferece melhores condições de
visibilidade e acústica. A que possibilita todas as transformações cênicas
exigidas pela ação. A que permite os efeitos de ilusão (desde a imitação
naturalista até a magia feérica) mais perfeitos. Comparadas com o teatro
italiano, as outras fórmulas aparecem, seja como tentativas às cegas,
aproximações aos poucos à solução inexcedível que ele representa, seja como um
mal menor resultante da precariedade de recursos técnicos de que dependem as
atividade do espetáculo (ROUBINE, 1998, p. 81).
1943 – O diretor polonês Zbigniew Ziembinski (1908 – 1978), recém
chegado no Brasil, monta Vestido de Noiva,
de Nelson Rodrigues, com o grupo Os Comediantes, no Rio de Janeiro. A montagem
é considerada por muitos como a primeira peça modernista brasileira, sobretudo,
pela dramaturgia revolucionária de Nelson Rodrigues para os padrões da época,
mas também pelo tipo de encenação que considerava a cenografia, criada por
Tomás de Santa Rosa (1909 – 1956), como parte instigante da dramaturgia, ao
dividir o espaço cênico em três diferentes planos simultâneos e representar
cada um com um tempo específico. A cenografia dessa montagem quebra com o
padrão realista vigente até o momento e, portanto, é um marco na cenografia
brasileira.
Assim como a obra dramática, a montagem fez história.
Para atender às exigências do texto, Santa Rosa criou um cenário formado por
praticáveis que se intercomunicavam, onde ocorriam as cenas da alucinação, da memória
e da realidade, que estabelecem as molduras nas quais a agonizante Alaíde,
protagonista, desvenda ao público a história trágica do seu amor infeliz por
Pedro, na qual tem como rival a irmã, Lucia. (...) Pelo que registram as
crônicas da época da estreia, esse universo complexo ganhou de Ziembinski uma
tradução cênica dinâmica, ativa, vigorosa. A iluminação, à qual o diretor
dispensou especial cuidado, apresentou aos brasileiros um conceito moderno de
luz teatral, movimentando-se de acordo com o desenrolar da história e da
ocupação do espaço pelos atores (FARIA, 2013, p. 120).
Uma nova e mais elaborada maneira de construir cenários no Brasil se
iniciava, principalmente pensando nas habilidades arquitetônicas da cenografia
e, grandes cenários, como sabemos, impactam diretamente na recepção do
espectador.
Na segunda metade do século XX uma importante questão surge para permear
a produção teatral, referente à relação do espetáculo com o público. O que se
questiona, especificamente, é qual a relação do espectador com o espetáculo?
Surge finalmente a afirmação de que é possível um outro
modo de relacionar o espectador com o espetáculo, engajando o espectador no
grande jogo da imaginação. Isso pressupõe uma outra relação estética, na qual a
sugestão substitui a afirmação. A alusão ocupa o lugar da descrição, a elipse o
da redundância. Esse desejo de engajar o espectador na realização dramática,
até mesmo de comprometê-lo com ela, passou a nortear permanentemente as
pesquisas do teatro moderno: as de Artaud entre as duas guerras, mas também as
que predominaram a década de 1960, com as realizações do Living Theatre (Julian
Beck e Judith Malina), do Teatro laboratório de Wroclaw (Grotowski), de Lucca
Roncioni e de Ariane Mnouchkine, por mais diferentes que sejam, aliás, as bases
teóricas que orientam cada um desses empreendimentos (ROUBINE, 1998, p. 39).
A preocupação com a relação física
do espetáculo com o espectador, num certo aspecto, tem a ver com a
democratização do teatro. O teatro italiano representa o espelho de uma
hierarquia social. Para tanto, o processo de democratização busca libertar o
espetáculo do conforto estabelecido pela sala a italiana.
Em São Paulo, a partir de 1948 com a
criação do TBC –
Teatro Brasileiro de Comédia, os elementos visuais do espetáculo começam a se
desenvolver e a cenografia na década de 50 começa a ser a protagonista de inúmeras
montagens, pois começam a ser idealizadas sem restrições financeiras.
1950 – Jean Vilar (1912 – 1971)
assume a direção do Théâtre National
Populaire, transformando as práticas e os costumes do teatro francês. Suas
pesquisas terminam em limpar o palco italiano de todos os recursos que o
aproximavam de uma caixinha mágica, eliminando o pano de boca, deixando que o
público visse o palco antes mesmo do espetáculo começar, iluminado pela mesma
luz do auditório. Historicamente não era um recurso novo, porém, a intenção
era, de certa forma, mais uma vez, aproximar a cena do público, eliminando
qualquer efeito de ilusão.
Teatro de participação e de emoção, sem dúvida; mas, ao
mesmo tempo, lugar de meditação e de interrogação. Por outro lado, Vilar,
herdeiro de Copeau e discípulo de Dullin, considerou sempre que o texto deve
ser o núcleo orgânico do espetáculo, ao qual todo o resto deve ficar
subordinado. Assim sendo, a tradicional convenção frontal seria aos sues olhos
a mais indicada para reunir as pessoas sem aluciná-las (ROUBINE, 1998, p. 99).
As tentativas de envolvimento e aproximação do espectador são cíclicas,
voltam a ser experimentadas pelo uso de estratégicas especificas,
principalmente pela relação espacial.
1958 – O Teatro de Arena
em São Paulo monta Eles Não Usam
Black-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), trazendo a encenação
para o centro da arena quadrada, palco do teatro, com espectadores acomodados
nos quatro lados da encenação. A simplicidade da encenação e a ausência de
recursos cênicos visuais de impacto foram compensados com a intimidade da
representação, responsável pela topografia da cena, executada muito próxima ao público presente.
A encenação de José Renato foi, até aquele momento, a
mais homogênea e de rendimento uniforme e satisfatório. E a recompensa supunha
muitas dificuldades para transmitir a veracidade do texto, porque formavam o
elenco atores inexperientes ou estrangeiros. Valorizou a montagem a maturidade,
orientada no sentido do despojamento. [...] Em poucos trabalhos ele não revela
a preocupação de inventar algo, para que sua presença ficasse marcada. Aqui, o
encenador se libertou da sedução de impor os próprios achados e atingiu a
autenticidade, por despir o conjunto de efeitos. Não seguiu, também a falsa
pista do pitoresco no morro, despreocupando-se da tarefa quase impossível, na
arena, de mostrar a cor local (MAGALDI, 1984, p. 53).
1960 – Jerzy Grotowski (1933 – 1999) avança na busca de aproximação
entre o ator e o espectador, formulando sua teoria do Teatro Pobre,
recusando a ajuda de qualquer maquinaria para tornar eficaz essas relação. Seus
primeiros espetáculos Caim e Sakuntala, ainda mantém uma relação
frontal com os espectadores, apesar das tentativas de mesclar os espaços da
cena com o público. Porém, a integração torna-se completa em 1961, com Os antepassados, através da inserção dos
espectadores dentro da cena, espalhados pelo espaço cênico ou área de
representação. A pesquisa espacial continua nos próximos trabalhos, Kordian, por exemplo, cujo cenário é um
hospício, foi dividido por camas de metal, compartilhadas por espectadores e
atores, e Fausto, onde os
espectadores ficavam sentados nos bancos das mesas que compunham o cenário, lado
a lado com os atores, dentro do espaço de representação.
Nos dois casos, a intimidade espacial e física da relação
que se estabelece entre o espectador e o ator é reforçada pela integração do
primeiro, não somente ao espaço, mas ao universo do espetáculo. Integração essa
que nunca, sem dúvida, foi tão completa nos anais do teatro (ROUBINE, 1998, p.
103).
Grotowski, libertou a encenação de
todos os aparatos tecnológicos possibilitados pela caixa cênica, deixando a
cena nua de tudo o que não era necessário para o trabalho do ator. Num certo
sentido, ele realiza aquilo que já havia sido preconizado por Artaud e Brecht.
Diante disso, podemos afirmar que as relações do espectador com o espetáculo se
fortalecem a partir de outras aspirações que não as ilusões e os truques
facilitados pelo palco italiano.
1963 – Josef Svoboda (1920 – 2002),
mestre da cenografia e da encenação Checa, encena Édipo Rei, de Sófocles, no Teatro Nacional de praga. Na formatação
do espaço cênico, ele cria uma escada de quase dez metros de largura, com
degraus semitransparentes, que se erguiam do fosso da orquestra até o urdimento
do teatro. A relação da tecnologia com o teatro esteve sempre muito presente
nas encenações de Svoboda.
Trabalhou nos maiores teatros do mundo, reunindo valores
técnicos nos campos da óptica, da iluminação, da cinética cenográfica e dos
novos meios para fazê-lo. Foi quem mais realizou os sonhos de Appia e Craig.
Uniu ilusão e expressão, técnica e arte. Criou o Polyvision e o Diapolicran,
sistemas para projetar imagens de maneira complexa e que uniam representação e
representação pré-gravada (NERO, 2009, p. 269).
Svoboda, na contramão da simplicidade almejada por Grotowski, investe em
grandes produções cenográficas. A cenografia sempre foi para ele um forte
objeto de estudo no desenvolvimento da encenação.
1968 – Victor Garcia (1934 – 1982), um diretor argentino radicado no
Brasil, monta o espetáculo Cemitério de
Automóveis, unindo quatro textos do espanhol Fernando Arrabal (1932 -). A
encenação acontece numa antiga garagem de automóveis, onde a plateia é
acomodada em cadeiras giratórias, visualizando os 360 graus da encenação. Na
cenografia estão carcaças de automóveis espalhas e empilhadas.
O desempenho liberto da dicção realista, o
desenvolvimento antipsicológico dos conflitos, a violência física e as
evoluções acrobáticas punham diante de nós um universo inédito, cujos paralelos
teóricos parecem irmanar-se ao ritual artaudiano ou mesmo grotowskiano. (...)
Momento de suprema beleza visual, sintetizando simbolicamente o significado de
A Primeira Comunhão: enquanto a avó solene e majestosa dava conselhos, a neta,
respondendo apenas um 'sim mamãe', era paramentada em círculos concêntricos de
diferentes tamanhos, até transformar-se em verdadeiro bolo de noiva. Era a
primeira vez que se construía, à nossa frente, metáfora tão poderosa (MAGALDI,
2003, p. 217).
É também de 1968 uma montagem do Teatro Oficina,
dirigido por José Celso Martinez Corrêa (1937 -), Galileu, Galilei, de Brechtt, eleita aqui, dentre outros, para
ressaltar a importância e a estética cênica do Teatro Oficina nas décadas de 60
e 70.
Apelando para a via de conhecimento, efetivada em cena
através da experiência concreta ao contrário daquela puramente intelectual,
tornando a ação algo pessoal e palpável, o Oficina envereda por um percurso
que, pouco a pouco, o levará ao happening.
Galileu evidenciava mais uma vez o
prestígio da equipe, tida como a mais ousada e esteticamente inquieta dentre os
elencos nacionais (FARIA, 2013, p. 227).
O Teatro Oficina foi várias vezes reformado, abrigando vários formatos
de encenações e relações com a plateia, passando do modelo de palco italiano
para duas plateias laterais e, mais tarde, nos anos de 1980, para o formato
“terreiro”, caracterizado pelo espaço a céu aberto com piso de terra batida,
sem uma configuração fixa de plateia. Atualmente o formato do teatro é o de
rua, com andaimes, lembrando um sambódromo. O projeto arquitetural foi de Lina
Bo Bardi (1914 - 1922), em parceria com o José Celso e outros colaboradores.
“Talvez o Oficina seja hoje nossa mais radical experiência em termos de
arquitetura teatral, com uma vocação multimídia na qual os atores interagem com
os mais variados recursos tecnológicos (SERRONI, 2013, p. 57).
1969 – Luca Ronconi (1933 – 2015) encena Orlando Furioso, libertando totalmente o espetáculo da tradição do
teatro a italiana, apresentando-se para grandes plateias. Como no teatro
medieval, as cenas eram apresentadas sobre carros que se movimentavam por entre
a plateia, deixando os espectadores livres para se locomoverem por onde
quisessem, arriscando-se entre os caros/cenários que se locomoviam em alta
velocidade por todos os lados.
No que diz respeito ao espectador, pode-se caracterizar
da seguinte maneira o aspecto da relação que Ronconi determina através do seu
espetáculo: antes de mais nada, a desorientação. O espaço não proporciona mais
nenhuma zona especializada. Ao entrar, o espectador não encontra o seu lugar
marcado. (...) O espetáculo nunca está lá onde é aguardado. Surge sempre nos
lugares mais inesperados, ao longe, lá nas alturas, no nível das cabeças, no
chão, tudo ao mesmo tempo. Outro elemento é o desconforto, em todas as suas
formas. O espectador é constantemente acossado pelo espetáculo. Pelos carrinhos
que passam raspando. Pelas agressões sonoras dos paroxismos da declamação.
Pelas intervenções físicas dos atores, que lhe impõem e orientam os
deslocamentos (ROUBINE, 1998, p. 108).
Também em 1969, em São Paulo, no
teatro Ruth Escobar, o diretor Victor Garcia continua suas provocações
espaciais, na relação com a plateia, montando O Balcão, de Jean Genet (1910 – 1986), repercutindo
internacionalmente pela ousadia da montagem, aliando a tecnologia, engenharia e
a arquitetura. Segundo o cenógrafo J. C. Serroni (1950 -), foi a experiência
mais audaciosa em termos de cenografia já realizada no Brasil.
O cenógrafo Wladimir Pereira Cardoso transformou o espaço
do teatro em um buraco de cerca de vinte metros de profundidade e alí construiu
o cenário/teatro. Nesse espaço, foi erigida uma estrutura metálica que
sustentava tanto os atores como o público. A passarela metálica em forma de
espiral subia do piso ao teto, abrigando a movimentação dos atores. Na cena dos
revolucionários, parte da estrutura se movia levando junto o público, sentado
ao redor em vários níveis circulares. Essa movimentação se dava por motores que
faziam com que a estrutura se abrisse em duas partes distanciando algum momento
a cena do público, que podia vê-la de forma mais ampla, mais aberta. O teatro,
no entanto, continuou intacto, sendo possível seu uso normalmente, como vinha
sendo feito antes da montagem da peça (SERRONI, 2013, p. 52).
O teatro, finalmente, no Brasil e no mundo, resgatando ideias do passado
ou inovando em alguns aspectos, propõe outras espacialidades que não aquelas já
conhecidas durante os últimos 100 anos e, enfim, conseguimos avançar quanto ao
uso do espaço na encenação.
A partir da década de 1970, sobretudo, conforme afirma Hans-Thies
Lehmann (1944-), intensifica uma prática de teatro que vai além da reprodução
do mundo, da ilusão cênica e que se constrói sobre territórios miscigenados
entre as artes visuais, a dança, o cinema, o vídeo, a performance, ou seja, híbrido
no que se refere ao uso das diferentes mídias. Lehmann vai nomear essa
tendência do teatro nas últimas décadas do século XX como o teatro pós
dramático, ou seja, um novo teatro que começa com o desaparecimento do
triângulo drama, ação, imitação (GUINSBURG e FERNANDES, 2009, p. 13). Não é a
ausência do texto dramático que configura essa nova possibilidade de teatro,
segundo Lehmann, mas o uso que a encenação faz dos textos dramáticos. O teatro
pós dramático se caracteriza assim, principalmente, pelo uso que faz de todos
os elementos cênicos, onde qualquer significante pode ser tomado como elemento
dramatúrgico, por exemplo, desprivilegiando a supremacia do texto escrito.
1971 – Ronconi continua sua pesquisa sobre o espaço cênico e encena XX, uma composição de 24 pequenas peças,
separadas uma das outras por finas paredes divisórias. Em cada um dos
compartimentos, cada ator enfrenta 24 espectadores selecionados. Os atores
transitam de um espaço para o outro, intercalando-se, mas mantendo inicialmente
esse formato de 1 para 24. No decorrer do espetáculo, as paredes vão caindo,
aumentando o número de atores e espectadores, sucessivamente, compartilhando as
cenas. No final do espetáculo, cada espectador passou por uma experiência
única, possibilitada pela sequencia de cenas que viu ou pelo seu posicionamento
em cada momento do espetáculo, ressignificando a dramaturgia através dos
recortes apresentados. Novamente o mal estar estava presente, pelos ruídos que
chegavam das cenas vizinhas e pela impossibilidade de compreender o que se
desenrola nos outros compartimentos, captando apenas de forma fragmentadas os
resquícios que sobravam dos acontecimentos.
Concebida desse modo, a relação do espectador com o
espetáculo é ambígua. Ela se baseia, por um lado, na proximidade, talvez até na
participação (alguns espectadores podem ser convidados a participar de uma
determinada ação; os atores dirigem-se diretamente ao público). (...) A
proximidade duplica o sentimento de estranheza que o invade. Não consegue mais
retomar integralmente a sua identidade de espectador de teatro, mas não se
sente tãopouco fazendo parte de um grande jogo. Tem a sensação de estar
sobrando. De estar assistindo pelo buraco da fechadura a uma espécie de
psicodrama que a sua simples presença ameaça perturbar (ROUBINE, 1998, p. 111).
Também em 1971, na França, Ariane
Monouchkine (1939 - ) vai no mesmo sentido de Ronconi. Montam 1789, um espetáculo para grandes plateias,
que segue acompanhando em pé a duração da peça. Nesse sentido, aproxima se de Orlando Furioso. Cada espectador poderia
evoluir como desejasse no espaço cênico, livremente, orientados pela
distribuição sonora e visual do espetáculo. Cinco áreas de representação foram
montadas em um grande galpão do subúrbio parisiense, unidos por passarelas e
todo o espaço criado era compartilhado por atores e espectadores (ROUBINE,
1998, p. 114).
Neste mesmo ano, Ivan de Albuquerque
(1932 – 2001) encena no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, Hoje é dia de Rock de José Vicente (1945 – 2007). O espaço cênico,
em formato de passarela, com plateia dos dois lados, foi proposto por Luis
Carlos Rípper, onde os atores recebiam o público com pão e flores,
envolvendo-os na encenação (FARIA, 2013, p.234). Novamente, uma relação de proximidade
foi estabelecida.
1972 – Celso Nunes (1941 - ) encena A Viagem com cenografia de Hélio
Eichbauer (1941 – 2018) e propõe que a plateia faça um percurso, deslocando se
pelas dependências do teatro. Os espectadores eram recebidos pelos
atores/personagens já na entrada do teatro, quando eram encaminhados para o
porão do teatro, lugar onde aconteciam as primeiras cenas. Depois, eram
encaminhados para o palco principal, onde aconteciam as principais cenas,
dispostas em passarelas que contornavam o público e nos praticáveis de acrílico
sobre as cabeças dos espectadores (SERRONI, 2013, p. 53).
O Théatre du Solei segue
experimentando pela década de 1970 outras topografias extra caixa cênica do
palco italiano. Cria quatro espaços cênicos diferentes dentro de um galpão para
encenar L´age d´or, em 1976,
experimentando distâncias bem próximas com os espectadores e uma ambiência em
todo galpão, criada pela iluminação, vinda, inclusive, da parte externa,
através das janelas.
Segundo as referências pesquisadas,
o teatro oferece nessa segunda metade do século XX uma variedade de
possibilidades quanto a abordagens dos espaços cênicos. A experiência teatral
pôde ser, novamente, para os espectadores uma aventura intensa.
Com Grotowski, Ronconi, Mnouchkine e muitos outros que
lamentamos não poder enumerar aqui, o teatro liberta-se de suas amarras. O
espaço teatral torna-se, ou volta a ser, uma estrutura completamente flexível e
transformável de uma montagem para outra, quer se trate das áreas de
representação ou das zonas reservadas ao público. Agora o teatro pode ser feito
em qualquer lugar – de preferência evitando-se aquelas construções a que se
costuma dar o nome de teatros (ROUBINE, 1998, p. 117).
1974 – Uma experiência visceral é
vivida pelos espectadores de SOMMA ou Os
Melhores Anos de Nossas Vidas, encenada pelo grupo de Niterói, com direção
de Amir Haddad (1937 -) no Rio de Janeiro. A encenação rompia relação
palco-plateia, misturava espectadores e atores no espaço de representação,
palco e camarins. As cenas preparadas poderiam ou não acontecer, segundo a
fluidez de cada apresentação. De tão perturbador, o espetáculo foi censurado
após 15 apresentações. “Não há marcações de cenas nem texto linear, sendo o
espetáculo uma colagem de criações anteriores da equipe, em forte apelo ao
Happening” (FARIA, 2013, p. 237).
1976 – No teatro Treze de Maio, em
São Paulo, foi encenada a peça Pano de
Boca, uma montagem que alterava também a estrutura do espaço cênico pela
cenografia. O teto do teatro foi todo forrado com composições em tecidos e, na
plateia, foram colocados espelhos que alteravam as dimensões do espaço, tanto
da plateia, quanto do palco.
Podemos imaginar que esse tipo de
teatro, investindo nas relações espaciais, experimental por assim dizer, ainda
não era destinado à uma plateia elitizada, do ponto de vista econômico. Tal
plateia sempre esteve acostumada com o conforto do teatro italiano. As
propostas de espetáculos com encenações mais experimentais, pelo menos no
Brasil, de certa forma, sempre foram apreciadas por uma plateia mais
especializada, normalmente composta por artistas ou estudantes das mais
variadas expressões artísticas, espectadores dispostos a experimentar outros
formatos, nem sempre tão confortáveis e tranquilos como um teatro italiano
poderia oferecer para o público.
1977 – O diretor
Aderbal Freira Filho (1941) propõe
uma encenação altamente experimental para o espetáculo Morte de Danton, realizada nas galerias do metrô em construção no
Rio de Janeiro, registrando que a ocupação de espaços não convencionais, para o
teatro, já veem sendo realizadas há muito tempo no Brasil.
1980 - Tadeusz Kantor (1915 –
1990) monta Wielopole, Wielopole e
talvez seja, segundo Lehmann, “o primeiro encenador moderno a destruir os
paradigmas do teatro dramático, graças a uma verdadeira mimese estruturada da
guerra, inédita na assimilação de tema e forma (GUINSBURG e FERNANDES, 2009, p.
18). Na peça, toda a cenografia foi construída para ser manipulada pelos atores.
Sua materialidade consistiu na mistura de materiais, conferindo à plasticidade
uma textura de memória, antiga, quase que em ruínas. Janelas e portas possuiam
rodas. Os elementos cenográficos estavam em cena não para serem utilizados de
forma convencional, ao contrário, estavam ali para serem ressignificados, como
uma porta que levava para lugar nenhum e não retirava os atores de cena, por
exemplo. O personagem do autor, isto é,
o próprio Kantor estava presente na cena, manipulando atores e objetos cênicos,
nesta montagem quase que biográfica, misturando passado e presente, personagens
reais e representações fictícias, misturando memória, vida e morte.
Lehmann enfatiza a forma insistente com que Kantor
gravita em torno das lembranças da infância que, assimiladas à vivência das
duas guerras mundiais, criam em cena uma estrutura temporal de lembrança,
repetição e confronto contínuo com a perda e a morte. Seu teatro é uma
“cerimônia fúnebre de aniquilação tragicômica do sentido” (GUINSBURG e
FERNANDES, 2009, p. 20).
No Brasil os anos da década de 1980 foram responsáveis pelo
desenvolvimento visual dos espetáculos. Um alinhamento dos elementos visuais
desencadeou numa prática colaborativa entre os diferentes artistas, valorizando
figurinistas, cenógrafos, maquiadores e iluminadores. Esse movimento de
valorização da visualidade vai reforçar a plasticidade da cena, desenvolvida
com maturidade nos seguintes anos 90 e coroar, como Lehmann define, o teatro
pós dramático. A cenografia brasileira ganha destaque com os cenógrafos e
diretores da década de 1980 e 1990, ocupando o palco italiano na maioria das
vezes.
1986 – A companhia de teatro Ópera seca, dirigida por Gerald Thomas
(1954), encena Eletra com Creta, com
cenografia que dividia o palco lateralmente em três corredores, construídos por
telas transparentes, criada por Daniela Thomas (1959). O espaço criado,
permitia uma simultaneidade de planos. A iluminação fazia aparecer e
desaparecer personagens. Essa combinação de cenografia, iluminação, figurinos,
fumaça e demais elementos que surgiam, aliadas aos conteúdos dramatúrgicos,
fizeram de Gerald Thomas o nosso encenador pós dramático de maior
representatividade.
Na verdade, o que Thomas estreava no Brasil era uma
tendência presente na cena mundial, especialmente na americana, pelo menos
desde meados da década de 70. Com maior ou menor grau de afinidade, ele se
aproxima da linha de trabalho dos encenadores Richard Foreman e Bob Wilson, dos
grupos Mabou mines e Wooster, das performes
Meredith Monk e Lucinda Childs. O que todos tinham em comum era a exploração
auto-reflexiva da linguagem formal das artes cênicas. Centravam o interesse em
experimentações radicais de tempo e espaço e punham em xeque métodos mais
tradicionais de criar o teatro. Não havia texto dramático, personagens
definidas, conflito teatral, nem cenário, no sentido de um lugar onde o
espetáculo se localiza. O espaço cênico era o próprio teatro e a progressão da
narrativa acontecia através da mudança de temas espaciais, que se repetiam no
decorrer do espetáculo. Eletra com Creta,
que estreou em 1986, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, era uma
espécie de partitura formada por quatro telas de filó, nos quais Thomas
inscrevia seu texto cênico (FERNANDES e GUINSBURG, 1996, p. 12).
1992 – A montagem de Viagem ao
centro da terra, de Júlio Verne, dirigida por Ricardo Karman, num túnel
abandonado do Rio Pinheiros em São Paulo, propõe uma das maiores aventuras ao
público de teatro. Tratava se de uma montagem sensorial, multimídia, misturando
teatro, artes visuais, performance e vídeos. Era o espetáculo ocupando os
espaços urbanos, não convencionais, inusitados. Essa montagem tornou-se um
ícone dos anos 90 e influenciou toda uma geração de artistas e encenadores no
Brasil, sobretudo com relação ao uso do espaço real na cena contemporânea. Olhando
para a produção teatral brasileira dos anos 1990, a crítica Mariangela Alves de
Lima analisa:
Anômalo, circunscrito a São Paulo, é o diretor Ricardo
Karman que criou duas obras autorais de extraordinária dimensão física e
estética. [...] Atribuindo um propósito cenográfico às mais agressivas formas
urbanas - a violentação de um rio, o lixo, a ruína - os espetáculos de Karman
incitavam a uma relação transformadora com o espaço da cidade (LIMA, 1998, p.
35).
1995 – Klaus Michael Grüber (1941 – 2008) encena na Alemanha Mãe Pálida, Irmã Frágil, onde, nesse
trabalho e nos dois anteriores, ele transforma o espaço como o próprio protagonista,
assemelhando-se aos brasileiros do Teatro da Vertigem
que também escolhem espaços públicos para protagonizar suas montagens (GUINSBURG
e FERNANDES, 2009, p. 22).
No mesmo ano, no Brasil, o Teatro da Vertigem em São Paulo, dirigido por
Antônio Araujo, estreia o espetáculo O Livro
de Jó. Esse foi o segundo espetáculo da Trilogia Bíblica e foi apresentado
num hospital abandonado. O primeiro chamava-se Paraíso perdido, apresentando em 1992 na Igreja de Santa Ifigênia,
e o terceiro foi Apocalipse I, II, em
2000 num presídio desativado, ambos com cenografia de Marcos Pedroso (1965).
No final do século XX o teatro ocupa diferentes espaços urbanos,
ressignificando os espaços ao mesmo tempo em que a espacialidade da cena ganha
uma textura real, com a memória do tempo. Trata-se de antigos prédios
abandonados ou não, pátios de instituições, igrejas e outras espacialidades
urbanas como as próprias ruas das cidades. Podemos dizer que a própria
dramaturgia passa a ser desenvolvida a partir da ocupação desses espaços e do
contexto social e político que eles carregam e imprimem.
Isso levou à busca pela criação de espaços teatrais em
prisões, armazéns, cozinhas públicas ou fábricas antigas. Frequentemente, a
mudança de uso do edifício é profundamente irônica. Locais de penitência no
passado se tornam locais de prazer, e sombrias cavernas industriais, falidas e
supérfluas há muito tempo, ganham uma nova vida como templos da arte. Em vez de
um ponto fixo, o palco pode ser posicionado na parte mais adequada do espaço
refeito do auditório, a fim de proporcionar o melhor relacionamento possível
entre os intérpretes e seus espectadores (HOWARD, 2015, p. 33).
REFERÊNCIAS
BERTHOLD,
Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2006.
FARIA,
João Roberto. História do Teatro Brasileiro – Volume I: Das origens ao teatro
profissional da primeira metade do século XX. São Paulo: Perspectiva: Edições
Sesc, 2012.
FARIA,
João Roberto. História do Teatro Brasileiro – Volume II: Do modernismo às
tendências contemporâneas. São
Paulo: Perspectiva: Edições Sesc, 2013.
FERNANDES,
Silvia e GUINSBURG, J. (orgs.). Um encenador de sí mesmo: Gerald Thomas. São
Paulo: Perspectiva, 1996.
GUINSBURG,
J. e FERNANDES, Silvia (orgs.). O Pós Dramático. São Paulo: Perspectiva, 2009.
HOWARD,
Pamela. O que é cenografia? Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Edições Sesc
São Paulo, 2015.
LEVI,
Clovis. Teatro brasileiro: um panorama do século XX. São Paulo e Rio de
Janeiro: Funarte e Atração Produções Ilimitadas, 1997.
LIMA,
Mariângela Alves de. O teatro paulista in Sete Palcos - Cena Lusófona, nº 3,
setembro de 1998.
MAGALDI,
Sábato. Um palco brasileiro: o Arena em São Paulo. São Paulo: Brasiliense,
1984.
MAGALDI,
Sábato. Depois do espetáculo. São Paulo: Perspectiva, 2003.
NERO,
Cyro Del. Maquina para os deuses: Anotações de um cenógrafo e o discurso da
cenografia. São Paulo: Editora Senac: Edições Sesc, 2009.
PAVIS,
Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005.
RATTO,
Gianni. Antitratado de cenografia: Variações sobre o mesmo tema. São Paulo:
Editora Senac, 1999.
ROUBINE,
Jean-Jacques. A linguagem da Encenação Teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed,
1998.
SCHEFFLER,
Ismael. Alfred Jarry: O dramaturgo da cena. Anais - VI Fórum de pesquisa
científica em artes. Curitiba: Escola de Música e Belas Artes do Paraná, 2009.
SERRONI,
José Carlos. Cenografia brasileira: Notas de um cenógrafo. São Paulo: Edições
Sesc, 2013).
VASCONCELLOS,
Luiz Paulo. Dicionário de Teatro. São Paulo: L&PM Editores, 1987.